Conflitos culturais
- Carlos Duarte
- 21 jul 2017
- 8 Min. de lectura

Para o etnógrafo, o Continente Africano é o verdadeiro paraíso de pesquisa e estudo; lá se encontram todos os estágios da civilização humana, desde o Período Paleolítico até ao Contemporâneo.
Não é possível formar uma ideia político-social e econômica de um povo, sem que desse povo se tenha uma ideia global acerca da sua personalidade “comportamento coletivo, consuetudinário”. Para dar essa ideia global acerca da “personalidade” dos povos de Angola, torna-se necessário que primeiro se faça uma breve nota explicativa do aparecimento, formação e subdivisão desses povos.
Rejeito veementemente os conceitos arbitrários de progresso, bem como teorias evolucionistas segundo as quais a cultura ocidental é invariavelmente colocada no topo da escala de civilização.
As culturas devem ser estudadas pelo seu valor inerente, e só parecem exóticas a quem não procura entender o sentido e a coerência das suas normas e costumes.
As linhas etno linguísticas em Angola têm três origens distintas:
Em primeiro lugar vamos considerar os KoiSan - Bosquímanos ou Mukuankalas – Hotentotes, que dominaram a metade Sul da África até cerca de cinco mil anos atrás.
Supõem alguns Antropólogos que estes indivíduos de características completamente distintas de todos os outros seres humanos, descendem de remota família caucasiana.
Há cerca de cinco mil anos atrás, dá-se a invasão dos Bantus – plural de N’tu, que quer dizer “Ser Humano” – povos vindos das margens do Mar Vermelho em busca de melhores terras e pastagens – com os movimentos glaciares entre o III e o VIII milênios começa o processo de desertificação do Norte de África – e que, em maior número e com armamento mais sofisticado, foram chacinando e escorraçando o restante da etnia anteriormente dominante, para as regiões Desérticas do Sul do Continente.
A terceira Etnia, que não vamos considerar, são os brancos, descendentes dos Europeus que colonizaram o País e que desembarcaram pela primeira vez na foz do Rio Zaire, no século XV.
A primeira etnia considerada, a dos KoiSan/Bosquímanos – termo que deriva de Bush Man – limitou-se às regiões desérticas, e mantiveram inalterados os seus costumes, face às dificuldades e da aridez da região que ocupam.
Limitam-se à “caça e colheita”, isto é, caçam e colhem frutos, verduras, raízes e tubérculos de crescimento espontâneo para alimentação; nada cultivam e mantêm hábitos nômades.
A segunda linha étnica, os Bantus, novos senhores das planícies e florestas, sub-dividiram-se e ocuparam regiões de características diferentes, de caça, de pastagens, de agricultura, de pesca, mais ou menos ricas, o que determinou, além da inclinação econômica para a existência, tornarem-se mais ou menos combativos. Com o passar dos séculos adquiriram novos costumes de acordo com as regiões ocupadas; a própria língua mãe sofreu alterações de região para região, o que dá origem a novos povos, novos grupos etno linguísticos, com novos costumes e características de vida próprias, embora Bantus por raiz.
Acho importante esclarecer que falo de costumes puros, tão isentos da influência da cultura ocidental, levada pelos colonizadores, quanto possível, e que ainda hoje se encontram pelo país.
Costumes de uma lógica, civismo, humanismo e riqueza cultural que nunca foram plenamente reconhecidos pelos ocidentais.
A falta de conhecimento da cultura – costumes, civilização, princípios éticos e filosóficos – dos povos Africanos, foi a causadora de abismos de incompreensão entre colonizados e colonizadores.
Na África colonial, era costume as classes mais privilegiadas – de esmagadora maioria branca – terem diversos empregados domésticos, por vezes trazidos diretamente dos kimbos – aldeias nativas – do mato para a cidade, onde, por força das circunstâncias se viam na necessidade de aprender serviços e a conviver com realidades que culturalmente nada lhes diziam.
Volta e meia, um desses serviçais “Had Oc”, encontrando pela casa um objeto não usado por ninguém, mas do qual ele necessitasse, pegava-o.
A acusação de roubo, causava a mais autêntica admiração e negativa:
- Não roubei não, peguei porque ninguém estava precisando!
Os povos africanos têm um desapego material, que muito deveria ensinar às culturas ocidentais. Poucos são os objetos pessoais – panelas, armas, a roupa - a grande maioria de objetos, ferramentas etc, são comunitários.
O filme Dersu Uzala, de Akira Kurosawa, de 1975, mostra conflitos culturais entre os dois personagens principais. Conta a história de uma expedição científica pelo Alaska, em 1920, onde o chefe da expedição, pleno de conceitos cívicos ocidentais, começa a dar-se conta de que, a cultura do guia, um indivíduo não alfabetizado, é na maioria dos aspectos, muito mais coerente e humana.
Num ponto da história, vítimas de uma tempestade de neve, abrigam-se numa cabana até a tempestade passar; quando vão embora, o guia, pega um pouco de sal e de comida não perecível, da parca reserva que levavam, e deixa na cabana.
O cientista perplexo, critica-o, nunca mais irão voltar aquele lugar, porque deixar a comida lá? O guia responde de forma singela que, eles não voltarão, mas outras pessoas certamente sim, e podem estar necessitados de além de abrigo, também de alimento.
Esse conceito de repartir, a hospitalidade inerente e é um dos conceitos que mais estranheza causavam ao colonizador. O africano quando viaja e chega a um kimbo, simplesmente se dirige à tchiota, sabendo que ali pode dormir, e que, quando chegar a panela de comida, também passa por ele, sem que nada tenha que pedir, sem que nada precise agradecer.
Outro costume dos povos de cultura pura Africanos, em geral, e ainda hoje muito encontrado em Angola, independentemente de origem etno linguística , e mesmo entre camadas com forte influência da cultura ocidental, e que tem sido constante alvo de críticas e desdém, é a sequência dos elementos de uma família quando caminhando. O homem vai na frente, não carregando qualquer tipo de peso; mais atrás uma dezena de metros, vai a mulher carregando todo o peso – kinda com mantimentos, bicuatas e panos, filho de colo nas costas, o que for – também mais de uma dezena de metros atrás da mulher, vai a prole de filhos.
Assim caminham quer em pequenas ou longas jornadas, e mantendo constante diálogo.
Atitude inconcebível para a cultura ocidental, impregnada de conceitos cavalheirescos não adaptados à realidade da vida africana.
Organização de marcha coerente, se nos lembrarmos que, desde tempos imemoriais, caminhando por terras que a qualquer momento poderiam reservar como surpresa o aparecimento de um predador, o homem, chefe e defensor do clã familiar, preparado desde a “mukanda Kandongo” nas artes da caça e da guerra, não podia levar qualquer peso que por ventura viesse a estorvar-lhe os movimentos de defesa. A mulher, um pouco mais atrás, tinha condições de fugir em caso de perigo real; os filhos, bem mais atrás, só por grande fatalidade não conseguiriam livrar-se do perigo pela fuga.
A conversa constante, e às vezes incoerente ou despropositada durante a caminhada? Era, ou melhor, é, o jeito de manter contato sem tirar os olhos do caminho.
E barreira cultural, fica bem clara, em episódios que aconteciam antigamente na Balabaia.
AS LAGOSTAS DA BALABAIA I
Por razões que talvez só os biólogos marinhos e os oceanógrafos possam explicar, entre a cidade do Lobito e Sumbe, no Egito Praia, havia uma quantidade de viveiros de lagosta, que tornavam a pesca do crustáceo uma atividade enfadonha de tão fácil que era; na época de maior densidade populacional de lagostas, no final da estação chuvosa, em pesca de mergulho se podia escolher as maiores, e em poucas horas se conseguia pegar à mão uma boa quantidade delas.
Mas nem havia necessidade, porque, das sanzalas da região, quase sempre havia pessoas vendendo pencas de lagostas, penduradas em cordas e ainda vivas, na beira da estrada e por preços irrisórios. Não raro, motivos de cenas surrealistas e de choque cultural.
Sabe-se que ao africano com pouca influência da cultura ocidental, faltam algumas noções tão fundamentais nos países de cultura europeia; noção de tempo, de distância, de moeda/ comércio, entre outras.
Acontece que, os kimbos da região, embora auto suficientes em quase tudo, não eram completamente alheios a alguns poucos itens do conforto ocidental; catanas, kambrikites quando chegava o cacimbo e algumas ferramentas agrícolas.
Assim, quando um habitante de alguma sanzala da região precisava ou queria comprar algum artigo do comerciante de mato, ia lá à loja e perguntava o preço, como mera referência. Na cabeça dele, o artigo em questão já tinha um preço estipulado e estabelecido, que era o produto do trabalho de um determinado numero de horas, meio dia, um dia, dois dias, dependendo do grau de necessidade e utilidade do bem em questão.
E então ia mergulhar durante esse tanto de tempo e pegar as lagostas que conseguisse, que depois pendurava no cipó ainda vivas, que ia para a beira da estrada vender pelo dinheiro pesquisado junto ao comerciante para o artigo; na realidade não era uma venda e sim uma troca com intermediário....trocava as lagostas pelo kambrikite ou catana!
Onde o surrealismo ou choque cultural?
Bem é que na época, não havia ainda os freezers caseiros, e era frequente um viajante parar interessado em comprar, mas não a penca toda; onde guardar em condições de não deterioração vinte lagostas grandes? Ou por que amigos distribuir tantos crustáceos? Dava sim o preço pedido, mas por apenas três ou quatro das lagostas.
A negativa por parte do vendedor era imediata, de modo algum, o dinheiro pedido era para a totalidade dos bichinhos, ou tudo ou nada.
Não adiantavam os argumentos tentando explicar que não se tratava de logro, não era intenção enganá-lo, ele que entendesse que se estava disposto a pagar o preço pedido, mas só levar uma parte.....
Era tudo ou nada, e se o viajante se negasse a levar tudo, então o vendedor preferia continuar ali na beira da estrada aguardando outro interessado; tempo não era questão relevante nem muito bem entendida.
E a recusa não era porque se sentisse logrado pela proposta, mas sim ofendido. Representava um descaso, uma desvalorização do trabalho empreendido, como trabalhara aquele tanto de tempo e agora lhe ofereciam o dinheiro pretendido para troca por apenas uma parte do produto conseguido? E o que fazer, com o resto do produto, destinado apenas a esse fim?
Outra circunstância surrealista, acontecia quando dois elementos precisavam de comprar o mesmo artigo, e ambos iam mergulhar para pegar lagostas no mesmo período de tempo, e um deles, porque mais sortudo ou hábil, pegava uma quantidade nitidamente maior.
Os dois iam para a beira da estrada, lado a lado, vender pelo mesmo preço as quantidades diferentes. O que tinha pego menor quantidade de pescado, não se constrangia minimamente de pedir por meia dúzia de lagostas o mesmo dinheiro que o companheiro pedia por uma dúzia...tinha trabalhado o tempo justo e com afinco, se pegou menos, bem isso são coisas da vida.
A tentativa de barganha comparando preço e quantidade causava a maior estranheza, pedia o mesmo dinheiro porque trabalhara o mesmo tempo que o companheiro!!!!!
Um outro caso, não de conflito cultural, ilustra bastante bem a prodigalidade do mar do Egito Praia.
AS LAGOSTAS DA BALABAIA II
Na Canjala, entre o Lobito e o Sumbe, havia uma pousada que servia de escala para o início e o fim das caçadas na Anhara do Hanha.
Pertinho ficava o Egito Praia, com a sua praia imensa e de mar tão rico em peixe e frutos do mar, com águas limpas que deixavam ver a grande distância, um dos paraísos para a caça submarina. De lagostas de todos os tamanhos a meros e garoupas, barracudas, peixes prata, de tudo havia naquelas águas em grande fartura.
Na ida para a caçada, na parada na pousada da Canjala se preparavam as armas, se escolhia a munição, enchiam-se as garrafas de café, testavam-se os farolins se fosse à noite, enfim, os preparos gerais para que não houvesse necessidade de se interromper a caçada por nenhum motivo fútil, ou pior, que se perdesse um bom espécime por mera negligência.
Na volta, se guardava todo o equipamento de caça, e se tiravam as partes de carne que se ia levar, deixando o resto – sempre muita carne; de uma pacaça se tirava os filés de um ungiri os filés e um quarto trazeiro, dos golungos idem – com o dono da pousada.
Outras peças, ficavam inteiras nas sanzalas, para serem secas e alimentar a população.
Enquanto os empregados da pousada desmanchavam e cortavam a caça, sentavam-se os caçadores no restaurante da pousada, bebendo uma Cuca nem sempre muito gelada, e comendo um mata bicho de bifes de caça bem ajindungados.
Pagavam-se as cervejas, os bifes eram de graça para caçadores conhecidos.
Certo dia, um grupo de caçadores voltou da caçada sem nada, de mãos a abanar, mas como de hábito, parou na pousada da Canjala para o mata bicho.
Pedidas as Cucas e os bifes, o empregado de mesa apenas disse que não tinham carne.
Então o que havia para se comer?
O estalajadeiro, do lado de dentro do balcão, mais do que depressa, para que os caçadores sequer pensassem que se tratava de represália por não terem levado carne nesse dia, deu a volta e veio à mesa, constrangido, pedir desculpa por não ter carne a oferecer, a época não estava sendo de caça, fazia dias que nenhum caçador deixava lá uma peça que fosse.
E humilde, muito humilde e envergonhado, disse só ter para nos servir junto com as cervejas, lagosta cozida ou grelhada.



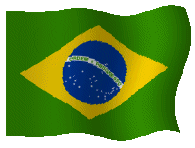























Comentarios